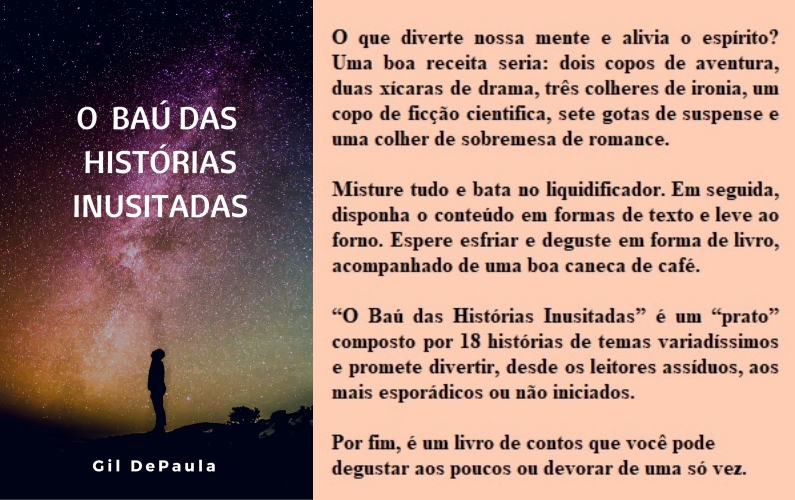Capítulo 1
Capítulo 1
Aracaju-SE, 1959
O vento morno, típico das terras sergipanas, bafejava seu hálito sobre o pequeno barraco, enquanto, no céu, as estrelas e a lua, majestosamente cheia, alumiava-o, evidenciando o contraste do belo da natureza com a pobre construção realizada pelo homem. O casebre possuía apenas dois cômodos e um banheiro. Uma pequena mesa de madeira, quatro cadeiras e um velho fogão a lenha compunham o primeiro ambiente, que se fazia misto de sala e cozinha. Ao fundo, uma velha cortina de pano sinalizava a entrada para o quarto, onde se via uma cama de casal, um berço e algumas malas atiradas ao chão.
Sentada à porta de entrada da casa, a mulher, ainda jovem, tem grudado, em um dos seios, o filho de pouco mais de um ano. A barriga volumosa denuncia que outra criança estava prestes a ser parida. Enquanto observa um grupo de crianças que brincam alegremente sob a luz do luar, numa algazarra sem fim, ela permite que várias lembranças aflorem a sua mente, as quais, em um vai e vem desordenado, misturam as recordações recentes com as antigas. A primeira, dentre muitas, apresenta-lhe a figura do marido, Marcílio, que, por obra e insistência dela, foi tentar a sorte em Brasília, cidade que estava sendo construída do nada para se tornar a nova capital do Brasil.
Os acontecimentos do passado lhe marcaram profundamente e o presente contemplava, praticamente, as mesmas dores, as mesmas incertezas, e o mesmo sentimento de impotência que ela queria deixar para trás. O que lhe restava, a não ser ter esperança no futuro? Por que não acreditar que a condição de mi- séria que sempre a acompanhou durante seus vinte e dois anos vividos poderia se modificar? Brasília era sua grande aposta! Vendeu férias. Organizou uma rifa. Economizou o que pôde e comprou a passagem de avião para o esposo, que, desempregado, teve sua resistência vencida em se aventurar para a nova cidade.
Da infância, relembrava as dores de uma vida difícil e cheia de sofrimentos. Lembrava-se nitidamente da fome, das surras impostas pelo padrasto, do trabalho pesado na fábrica de tecidos para onde a mãe a mandou aos onze anos, fazendo-a passar por mais velha. Dos serviços realizados nas cozinhas dos vizinhos em troca de restos de comidas, e das brigas com os irmãos. Da morte de José, um dos seus irmãos, aos dezessete anos em São Cristóvão, cidade do interior sergipano, que sempre lhe causava imensa dor.
Recordava, como se fosse ainda ontem, do seu primeiro dia na fábrica de tecidos. Da mãe acordando-a de madrugada, às quatro e meia da manhã:
— Acorde, Lídia. Hoje é seu primeiro dia na fábrica e você não pode chegar tarde! O primeiro turno é cinco e meia e é nele que você pega!
E como ela demorava a levantar:
— Anda, peste, senão te arranco o coro!
Também, lembrava-se do dia que – por acaso – conheceu Marcílio, e como lhe dera pouca importância. Para falar a verdade, quase o detestou.
Quando, do encontro na capital e demais cidades Sergipanas, ocorriam os festejos tradicionais de São João. Nas casas, as mulheres preparavam a canjica, o pé-de-moleque e separavam a batata doce. Os homens armavam as fogueiras e não esqueciam da cachaça, que seria tomada pura ou transformada em quentão.
Na Igreja de Santo Antônio, os preparativos para a quadrilha estavam animadíssimos, comandados pelo Padre Benevaldo que, muito satisfeito, tinha sempre à mão uma das garrafas de vinho tinto trazido pelo fiel Licurgo, descendente de gaúchos, que se orgulhava de ser amigo do clérigo.
Nas ruas enfeitadas por bandeirolas, aqui e acolá, viam-se grandes fogueiras. Balões multicoloridos feitos pelos moleques cruzavam os céus com grande pujança, como espelhos a refletirem a alma alegre de seus construtores.
A quermesse já havia começado, e Lídia, de braços dados com a amiga Lindaura, esperava a sua vez de receber a cumbuca com o munguzá que havia comprado, quando escutou:
— Olha que pitéu de neguinha!
E, em seguida a resposta, cheia de desdém, que mais tarde descobriria falsa:
— Não tem nada demais, é… muito bunduda.
Porém, Lídia, que se sabia uma mulher cobiçada pelos homens, disfarçou a raiva, olhou-o de cima para baixo com ar de desprezo, puxou a amiga pelo braço, e saiu remexendo as poderosas ancas, deixando Marcílio desconcertado.
No dia em que se deu o encontro de Lídia e Marcílio, ele estava em companhia do amigo Bispo, adorador dos mais diversos festejos. Por ser mulato igualmente a ele, às vezes, eram confundidos tal qual irmãos. Bispo morava em Maruim, cidade do interior de Sergipe, e nunca dispensava uma “quentinha”, principalmente se fosse de alambique.
Marcílio, secretamente, observava Lídia pelas ruas de Aracaju, sempre disfarçando seu interesse. Na primeira vez que a viu, em um vestido branco rodado, estampado com flores coloridas que valorizavam a sua cintura fina e destacava ainda mais o conjunto de um corpo bem talhado, encantou-se, prometendo a si mesmo conquistá-la.
Bispo havia deixado a noiva Neuza em Maruim, com a desculpa de procurar trabalho em Aracaju. Contudo, o que ele que- ria mesmo era aproveitar os festejos de São João e São Pedro, que duravam praticamente todo o mês de junho. Bispo, percebendo o encantamento do amigo por Lídia, não se fez de rogado:
— Olha, Marcílio! Não precisa mentir para mim! Eu vi que você não tirava os olhos da pretinha.
— Você está vendo é calango grudado em montanha de gelo – responde Marcílio, deitando-se a gargalhar.
Marcílio, dos nove irmãos, era o mais velho, o que mais aprontava, o que mais brigava e o que mais apanhava. Desde garoto, adotou a brutalidade como uma forma de proteção: “Basta – como ele mesmo dizia – qualquer um que mim atanazar, que leva é porrada”. Os irmãos constantemente sofriam em suas mãos: levavam desde cascudos a sonoras pauladas. Não perdoava nem as mulheres. Os animais, por ele, também eram perseguidos. Quando menino, pegou um gato no quintal de sua casa, agarrou-o pelo rabo e o arremessou várias vezes contra a parede. Depois saiu contando vantagem, apregoando que havia descoberto o porquê de se dizer que o bichano tinha sete vidas.
Marcos, pai de Marcílio, era um mestiço que trazia, no sangue, a descendência do português e do negro. Casara com Jose- fina, negra do cabelo liso. Tiveram treze filhos, dois faleceram pouco depois de nascido, e um na adolescência. Marcos, para cuidar de sua prole, dependia dos serviços realizados como pedreiro, os quais, quase sempre, eram escassos.
Ele, durante sua atribulada vida, adotaria atitudes que iriam marcar seus filhos para sempre, principalmente as surras aplicadas sem nenhum critério. Os castigos paternos fizeram com que Marcílio carregasse, por toda vida, um sentimento de humilhação, uma grande mágoa: costumavam, os pais, na hora do almoço, a se sentarem à pequena mesa existente em uma espécie de adendo à cozinha. Reunindo os filhos, Marcos mandava que sentassem (com um prato cheio de farinha) no chão de barro batido e, de sua cadeira, atirava pedaços de jabá, que, independentemente da onde caíssem, teriam que ser apanhados e comidos. No futuro, sentado ao lado de seus filhos, algumas vezes contaria essa história com um brilho de revolta no olhar.
Josefina, desde o começo do casamento, revelara-se de saúde frágil, nunca tendo trabalhado fora, pois não poderia fazê-lo ainda que quisesse, já que mal paria um filho e outro estava a caminho.
***
1960: um sonho profético acaba de brotar da terra do Planalto Central. De todos os lados, germinam buracos, estradas, acampamentos, construções e, principalmente, pessoas. Do sonho, faz-se a realidade de poeira que vai se edificando em concreto.
Gente pobre, vinda de todos os recantos do país, faz multidões de um mesmo devaneio e vai percorrendo as estradas empoeiradas do novo Distrito Federal, integrando-se à nova realidade. Todos acreditando em dias melhores, oportunidade que teria que ser construída com muito suor, outras com lágrimas, e não poucas vezes, com o próprio sangue.
Brasília brota do chão para ser um modelo planejado por políticos, arquitetos e empresários. Ela traz um novo conceito: uma cidade com ruas largas, sem esquinas, setores bem definidos. Ali, fica o centro do governo, acolá, o comércio. Aqui, o setor de diversões. Lá, as cidades satélites, onde o povinho deve se estabelecer. Aquele povinho, composto pela massa de trabalhadores que erguerão o Congresso Nacional, os Palácios da Presidência, os edifícios que abrigarão os ministérios, as residências oficiais e os setores considerados nobres, pois, ali, habitarão os donos do poder.
Há menos de um ano, Marcílio chegou a Brasília e trabalha na construção civil, como ajudante de pedreiro. Lídia e os dois filhos pequenos vieram no fim de janeiro, quando as chuvas se transformaram em verdadeiros temporais. Pedras de granizo caiam abundantemente, a lama grassava por todos os lados, raios caiam e queimavam tendas de lona, barracos e, não raramente, eletrocutavam pessoas. Naquele início de 1960, o mundo parecia estar desabando. Ele havia acomodado a mulher e os filhos em um local denominado Acampamento do Banco do Brasil, que, na realidade, era uma invasão. Com tábuas de compensado, construiu aquela moradia provisória: um barraco de dois compartimentos. À noite, mal conseguiam dormir por causa do barulho da chuva no telhado de zinco.
Não raramente, Marcílio trabalha até quatorze horas por dia. Funcionário da Construtora Rabelo, carrega sacos de cimento, tijolos, areia, ajuda no traçado da massa e na limpeza das ferramentas. Assim que começou a trabalhar, fez amizade com um conterrâneo: Ari, da cidade de Lagarto, interior de Sergipe.
Ari era um moço sorridente, prestativo e brincalhão. Só uma coisa desgostava o rapaz: a excessiva claridade de sua pele, aquelas sobrancelhas e cabelos brancos, aquela coisa de ser chamado sempre de albino. Acreditava que essa era a causa de sua dificuldade para arranjar uma namorada. Mas pelo menos na zona boêmia da Cidade Livre, fazia sucesso. Tinha ganhado a fama de mão aberta junto às moças do meretrício, e não se sabia de
nenhuma delas que tivesse sido maltratada por ele. Ana Clara, maranhense arretada (como ela mesma se autodenominava), até quisera juntar os trapos com ele, coisa que, por diversas vezes, atentou-o.
Março de 1960: a construção da cidade segue em ritmo intenso, pois Juscelino Kubitschek deixará o governo em menos de um ano. Entretanto, o que importa, para ele, é cumprir a promessa de inaugurar Brasília no dia 21 de abril.
Milhares de trabalhadores se dedicam de dia à noite, de domingo a domingo. Caminhões, tratores, betoneiras e moto niveladoras seguem freneticamente, no intuito de cumprir o vaticínio do Marquês de Pombal, no longínquo ano de 1761, e referendado por Floriano Peixoto, em 1892.
O dia caminha pela metade e, desde às sete horas da manhã, Marcílio e Ari trabalham na construção de um edifício que abri- gará um ministério da república. Preocupados, discutem sobre a ordem que receberam de abandonar o Acampamento do Banco do Brasil:
— Ari, tô preocupado! Será que esses lotes lá em Santa Cruz de Taguatinga (1) sai mesmo pra gente?
— Ô! Marcílio, deixe de preocupação homem. Eu li na Tribuna (2) que até o dia 15 sai a lista. O diretor da Rabelo garantiu que vamo tá nela.
— O tempo tá curto, meu chapa, e tenho mulher e dois filhos pra cuidar – continua Marcílio – 21 de abril já é a inauguração. Está muito em cima pra desfazer os barraco, juntar as traias construir outro lá em Taguatinga.
— Uma coisa é certa: não vai ficar ninguém no Acampamento. Todos vão ter que sair. O que Juscelino quer, vai ser feito. Você sabe como o homem é deter..
Nesse momento, são interrompidos por um corre-corre danado:
— O que houve? – perguntam a um dos alvoroçados.
— O Quinzin acaba de cair do quinto andar…
O Quinzin era um rapaz de dezoito anos, um metro e cinquenta e quatro, cearense, pau para toda obra, ladino que só ele. Costumava contar os casos da sua cidade natal, sempre começando por “macho”, e deitava a falar: Macho isso, Macho aquilo. E sempre finalizava: Pode acreditar, macho!
Marcílio e Ari, deixando de lado o que estão fazendo, dirigem-se rapidamente ao local e presenciam uma cena chocante: o Quinzin caído de bruços, com o pescoço quebrado. A cabeça virada para cima, como se tivesse sido torcida por mãos poderosas. Os braços estendidos ao longo do corpo. Massa encefálica e sangue saindo pelos lados. A queda realmente foi violenta, pois, antes de chegar ao chão, batera diversas vezes nas paredes e em vigas da construção.
Nas construções de Brasília, eram comuns os operários se acidentarem e, constantemente, muitos faleciam. O Quinzin, infelizmente, aumentou essa lista.
Marcílio, comumente frio, ficou abatido com a grotesca cena que, mais tarde, relataria a sua mulher, aumentando, com isso, as preocupações de Lídia, que já não eram poucas.
Lídia, desde o dia que chegou a Brasília, perguntava-se se fez a escolha certa. Primeiro, foram os amigos e os parentes de Aracaju que a desencorajaram de aventurar-se na nova cidade. Uns diziam: “O que você vai fazer naquele fim de mundo, onde gente é comida por onça e as cobras entram nas casas das pessoas?” Outros: “Você já viu que Marcílio não é homem para você. Ele lhe maltrata aqui e, lá, sem ninguém, você vai sofrer muito”.
Com efeito, o casamento realizado na Igreja de Santo Antônio, apenas três meses depois que conheceu Marcílio, era muito atribulado. Constantemente, as brigas aconteciam e as ameaças e os xingamentos à Lídia imperavam. Marcílio, nos primeiros dias de casamento, até se mostrou gentil. Depois, seus excessivos ciúmes, mesclados com sua brutalidade, prevaleceram.
Antes, quando Morena, mãe de Lídia, soube do namoro dos dois por meio de Tonho, o filho mais velho, ficou revoltada, pois conhecia a má fama de Marcílio. Tudo fez para impedir o romance e, principalmente, o casamento. Mas a teimosia de Lídia, agravada pela paixão, foi maior do que todos os conselhos e impropérios desfilados por sua genitora.
— Lídia! – aconselhou Morena. – Marcílio não respeita ninguém. Bole com todas as moças. Vive brigando nas festas. Não quero saber d’ocê com chamego com ele. Outro dia, eu e dona Rosa tava no mercadão, quando nós viu Marcílio e aquele amigo dele, o Lourival. De repente, sem que, sem mais, começaram uma briga com um mocinho. Judiaram do bichinho. Bateram muito nele e, se não fosse o seu Jamelão do Peixe, coisa pior podia ocorrer. Por aí, você vê quem é aquela peste.
E como Lídia se mostrava irredutível, ameaçava:
— Se você continua esse namoro, eu expulso você de casa – e, em ato contínuo, virava a cara e saía a resmungar.
Mas a paixão poucos olhos tem para a razão: Lídia, pela primeira vez, sentia-se amada, pois Marcílio lhe dava a atenção que nunca tivera em sua vida.
O moço, depois daquele encontro ocorrido nos festejos juninos, passou a procurá-la constantemente, cercando-a onde estivesse. Na fábrica de tecidos, na rua, e até na porta da casa dela. Na primeira vez, esperou por ela na saída do trabalho
e a presenteou com um estojo de Pó-Compacto, artigo de maquiagem que fazia muito sucesso entre as moças. Ao receber o mimo, Lídia se surpreendeu muito mais com as palavras que ele disse, ouvindo Marcílio confessar-lhe que há muito tempo gostava dela. Não só, mas que ela era a moça mais bonita de todo o Sergipe e que ele até havia brigado com um rapaz, porque ousara chamar a mãe dela de sogra, etc., etc.
Passado mais ou menos vinte dias, a insistência do rapaz e o roubo de um beijo acabaram por conquistá-la. Começaram os namoros e passaram a fazer planos para o futuro. Inicialmente, não falaram de casamento, mas a oposição de Morena precipitou o fato. Dois meses depois, estavam morando juntos, uma vez que Lídia não aguentou as pressões da mãe e saiu de casa.
No terceiro mês em que viviam maritalmente, foram convidados para uma festa de batizado. Durante a festa, o encontro de Lídia com um parente distante, que há muito não via, acrescentou mais uma marca negativa em sua vida. Com o companheiro estando a beber com os amigos, ela ficou a prosear com Agenor, filho de uma prima de sua mãe. No entanto, durante o colóquio
– sem que ela percebesse – Marcílio não deixava de observar os dois, com o ciúme crescente em seu coração.
Na volta para casa, Lídia, que, inocentemente, nada notou, começou a estranhar a atitude fria do companheiro, o qual, diante de suas perguntas e brincadeiras, a nada respondia:
— E então, meu bem… Gostou da festa?
— Que festa? O que eu vi foi você se esfregando naquele safado do seu primo. Eu devia é ter dado umas tapas nele.
— Você tá doido, homem? Eu estava só conversando!
— Conversando porra nenhuma, sua vadia!
— Seu desgraçado, se sou vadia por que você tá comigo?
Naquele momento, viu-se arremessada contra a parede e seu vestido sendo arrancado do corpo e feito em tiras. Aquele vestido novo, que usava pela primeira vez. No dia que o comprara, comentou com as amigas que ia ficar bonita para Marcílio. E, agora, a dor de vê-lo destruído e, principalmente, a dor de vê-lo destruído pelas mãos do companheiro, o qual tinha a intenção de agradá-lo, era maior do que a dor física da pancada na cabeça que recebeu ao bater nas paredes de madeira do pequeno barraco.
Seu choro de humilhação, raiva e desespero, de nada adiantaram, pois, em seguida, viu os bibelôs que enfeitavam a pequena mesa serem quebrados. O vaso de flores artificiais despedaçado. Os palavrões dirigidos a ela se intensificarem. Em seguida, ela veio à prostração. Seu estado, finalmente, desarmou Marcílio. Ele, não se vendo mais confrontado, começou a se mostrar arrependido diante do estrago feito. Assim, pedidos de desculpas, juras de amor, culpas à bebida e a promessa de nunca mais repetir o ato, foram dadas. Promessas que, por acreditar ou não, mantiveram Lídia ao lado de Marcílio. Promessas que seriam ditas e quebradas mais uma vez, mais uma vez, e sempre mais uma vez….
***
Um local cheio de poeira, barracos proliferando por todos os lados, um comércio que já conta com mais de cem construções, e um contundente vai e vêm de vinte mil pessoas: esta é a Cidade Livre (3) em 1960.
É a esse cenário que Iracildo se incorpora. Goiano, de Orizona, possui estatura baixa, atarracado, prestes a fazer vinte e um anos, mas com sinais evidentes de calvície, que o faz parecer mais velho. Veste uma calça surrada, dessas que usavam os tocadores de gado do interior de Goiás, botas de borrachas, chamadas galocha, e camisa quadriculada puída no colarinho. Estudou até o terceiro ano primário e, por isso, considerava-se esperto. Da cidade onde nasceu, teve que fugir, pois estava jurado de morte. Sente-se deslocado, visto que veio de uma cidadezinha de fim de mundo. Tem, como prioridade, comer alguma coisa, já que a fome é insuportável. Depois, sair à procura de algum trabalho.
Capítulo 2
Capítulo 2
Campo Formoso (Orizona) Goiás, 1939
Os gritos de Maria Odete ecoaram fortemente naquele treze de agosto, pois as dores eram mais fortes do que julgava poder suportar. Naquela hora, odiou ainda mais aquele pequeno ser que se formara em seu ventre. Que ela era mal falada, já sabia, e pouca importância aprendeu a dar. Mas, ser mãe solteira naquela cidadezinha que mal passava de um povoado, era insuportável. Assim que a barriga começou a crescer, por onde passava, via as pessoas cochicharem, a apontarem para a sua direção e, por fim, a lhe virarem a cara. Satisfação, tentou tirar uma vez, mas, ao ser chamada de vagabunda e mulher-dama, não soube como reagir, e preferiu fugir do confronto.
A parteira fazia de tudo para acalmá-la, mas a criança estava um pouco atravessada, o que dificultava o parto. Em sua agonia, recordava de sua chegada naquele local, em 1931, um ano que já lhe parecia longínquo, ainda muito menina, insegura, e total- mente despreparada para a vida.
Fama de namoradeira, sempre teve. Precoce para a época, aos treze anos, ela já se interessava pelos garotos e recebeu o seu primeiro beijo dado por seu primo, o Felipe. Desde cedo, notou que despertava o interesse do sexo masculino. Percebia que alguns coleguinhas, assim que lhe despontaram os seios, fixavam seus olhares neles, que se entreviam por baixo do pano fino do vestido de chita.
Quando teve o seu primeiro xico (era assim que a tia chamava a menstruação), não se perturbou, pois, sempre que podia, ficava escutando, às escondidas, as conversas das mulheres mais velhas. A transformação de menina para moça exacerbou o desejo sexual nascente. Ela, numa mistura de inocência e malícia, começou a provocar os rapazes: às vezes, olhava-os intensamente. Outras vezes, atirava-lhes sorrisos prometedores.
Assim que perdeu a mãe (vítima de um ataque cardíaco enquanto dormia), foi morar com sua tia Florentina, que todos chamavam de Flora. Considerava a tia uma boa mulher, o que, entretanto, não fazia com que deixasse de se sentir explorada por ter que executar praticamente todos os serviços domésticos da casa.
Felipe sempre se mostrava solicito para Maria Odete, trazendo, no olhar, ao fitá-la, um brilho intenso que a trespassava. Ela percebeu que ele sempre ficava desajeitado ao seu lado. Por várias vezes, pegou-o a observá-la silenciosamente. Virgem de corpo e sem experiência nas questões amorosas, demorou a perceber o que ocorria com Lipe. Mas, quando se deu conta, maliciosamente troçou do primo. Em determinados momentos, olhava-o languidamente, fazia voz mais doce, como se fosse ainda mais menina, mexia no cabelo coquetemente e passava a língua sobre os lábios. Em outros, pouca atenção lhe dava, mal conversava e, aproximando-se de outro garoto, dava preferência a este.
Na escola, relacionava-se melhor com os rapazes do que com as meninas, que sentiam por ela uma ponta de despeito por ser a preferida deles. Despeito que lhe traria muitos problemas ao longo da vida.
As brincadeiras entre Odete e Lipe eram constantes. Brincadeiras sem malícia, mas que, em um determinado sábado, tomaram outros ares. Como pôde ser antevisto por nossas palavras,
o rapaz, sem se dar conta, caiu de amores pela prima. Primeiro, viu-se pensando nela em todos os momentos: na escola, nos banhos de rio com os amigos ou praticando qualquer atividade. À noite, mal conseguia dormir, e um enorme desejo de correr ao quarto de Dete tomava-lhe por completo. Desejos que só eram contidos por sua timidez e por saber que sua mãe estava no quarto ao lado, além de não poder prever a reação do objeto de seu amor.
Felipe, nos seus dezesseis anos, nunca havia sido atingido pela seta do cupido, e essa primeira vez lhe deixava aturdido. Ao chegar perto da prima, as palavras e o fôlego lhe faltavam; sentia-se a tremer e o rosto em brasa. Percebia o papel ridículo que estava fazendo, mas não conseguia conter-se. Dete era tão inexperiente quanto Lipe, mas a malícia feminina prevaleceu e ela logo percebeu o que se passava com o primo. Começou, então, a lhe dar corda, a lhe exigir mimos, a fazer bocas e caras, e a regatear em determinados momentos, o que causou mais perplexidade ao rapaz.
O moço tomou uma decisão: disse a si mesmo que, na primeira oportunidade em que os dois estivessem sozinhos, confessaria todo seu amor, beijaria as suas mãos e acariciaria o seu rosto. Viu-se de mãos dadas com Odete pela praça da cidade, e por passeios no rio, pois, em seus devaneios, tinha a certeza de que era correspondido em sua paixão.
Naquela noite, Felipe não conseguiu dormir direito. O sono não vinha. Sabia que a mãe ia para casa do Capitão Antônio de Mello Souza França para lhe ajudar nos trabalhos domésticos aos sábados e nos folguedos que ele costumava promover. Então, ensaiava o que dizer a Dete assim que se vissem a sós.
Logo cedo, à mesa do café, Maria Odete estranhou o comportamento do primo, que se mostrava mais agitado do que o costume. Ele mal conseguia segurar a caneca com leite:
— Primo! O que é que você tem? Tá parecendo muito preocupado.
Felipe sentiu-se pego de surpresa:
— Num tenho nada… É que não consegui dormir essa noite…
— Lipe, você anda muito estranho de uns tempos pra cá – intervém Flora. – Que diabos tá acontecendo?
— Nada não, Florinha (era assim que ele se acostumara a tratar a mãe) –– responde Felipe, levantando-se apressadamente da mesa, quase derrubando as cadeiras.
Flora olhou para Dete com aquele olhar de “não estou entendendo nada”. A moça simplesmente deu de ombros:
— Besteira do primo. Não se preocupe, tia, depois eu falo com ele.
Mas, por dentro, Maria Odete se alegrou com a possibilidade de mofar do moço, pois percebeu muito bem quais eram os sentimentos que o perturbavam.
Assim que Flora saiu, a moça se botou à procura de Felipe. Encontrou o primo debaixo de um parreiral que havia nos fundos da casa. Ela aproximou-se e ficou a provocá-lo:
— Que é que foi que o meu priminho tem? Por acaso, andou caindo da cama?
E, enquanto falava, ela se aconchegava mais e mais ao rapaz. Tendo chegado bem perto, sentou-se ao seu lado e enfiou o seu braço debaixo do dele.
Naquele momento, Lipe sentiu lhe faltar o chão. Todo o sentimento represado veio à tona. Sem se dar conta, puxou a prima para si e lhe deu um longo beijo. O primeiro beijo de sua vida, que também era o primeiro de Dete.
A menina, pega de surpresa, correspondeu automaticamente, pois têm certas coisas que são inerentes aos homens e animais. O desejo é uma delas.
***
O Capitão Antônio de Mello Souza França era daqueles homens orgulhosos não só pela sua riqueza, mas muito mais pelo nome da sua família, que era conhecido e respeitado em todo o Goiás (diziam que eram descendentes dos fundadores da cidade). Apesar de bastante temido na cidade de Campo Formoso e nas cercanias, era um festeiro de primeira. Aos sábados, fizesse sol ou chovesse, invariavelmente, promovia uma cantoria acompanhada de um arrasta pé. Mandava buscar, onde estivesse, o Manoel Sanfoneiro e, às vezes, contratava alguma dupla de modinha caipira. O importante é que todos se divertissem e dançassem, de preferência, até o amanhecer. E ai de quem ousasse abandonar a lida, pois o Capitão se fazia furioso. Convidado dos Souza França não podia afrouxar o cabresto, como ele mesmo dizia.
Souza França ganhou a patente de capitão em 1918, próximo ao desfecho da Primeira Guerra Mundial. Dizia-se que lutara em um pelotão Francês comandado por um oficial brasileiro chamado José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, que, mais tarde, tornar-se-ia Marechal e seria o idealizador da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Após o fim da guerra, ficou mais um ano no exército. No começo de 1920, prestes a fazer vinte e cinco anos, pediu desligamento. O pai teve uma trombose em uma das pernas e não pôde continuar a tocar os negócios da família.
Souza França, ainda na juventude, tornou-se pragmático a tudo que envolvia relacionamento interpessoal. Mesmo em suas relações externas, fazia-se conservador. Para ele, o patrão era o patrão, o peão era o peão. Pobre que quisesse ter alguma coisa, que trabalhasse. Negro não passava de um escravo alforriado que se livrara da chibata, mas que ainda tinha o seu Senhor.
Quando voltou do exército, o desagregamento familiar era intenso tanto nas relações pessoais quanto nos negócios. As lojas chamadas de Casa da Subsistência, uma em Pires do Rio e outra em Campo Formoso, resultavam em perdas econômicas. A fazenda de café que o pai mantinha em sociedade com um tio em São Paulo, há dois anos, dizia-se que não dava lucro. A própria fazenda da família tinha problemas graves para serem resolvidos.
Logo depois de tomar pé da situação, viajou para São Paulo, onde descobriu que o tio estava desviando dinheiro do lucro recebido pela venda do café. Comprovada a falcatrua, obrigou o tio a abandonar a sociedade e colocou um administrador de sua confiança.
Em Pires do Rio, comprou o comércio de um concorrente e criou uma matriz e uma filial de seus negócios, mantendo o antigo dono como gerente geral das duas, por ser pessoa de reputação ilibada. Demitiu o gerente e mais dois funcionários da loja de Campo Formoso. Trouxe, para administrar toda a sua contabilidade, um compadre de seu pai que tinha sido funcionário do Banco do Brasil. Logo, tais decisões se mostraram acertadas e os negócios voltaram a crescer, superando os ganhos antigos.
Do compadre do pai, acabou por levar, também, a filha, pois se casou com Geraldina alguns meses após conhecê-la. Não que tivesse se apaixonado, mas enxergou, na moça, resignação e dedicação ao trabalho, qualidades que considerava indispensáveis em uma mulher. Alguns amigos estranharam o interesse do Capitão pela filha do amigo, pois, se não se podia achá-la completamente desprovida dos quesitos da beleza, estava longe de poder ser considerada bonita, predicado que as moças imputavam a Souza França.
O pai enxergou, no consórcio, um bom negócio, o qual traria tranquilidade financeira à família, coisa que nunca teve com o salário do banco. Mas, Geraldina gostou do Capitão. Percebeu, nele, o ar decidido e firme que nunca viu no genitor. E, demonstrado o interesse do Capitão por sua pessoa, tratou logo de dispensar um antigo pretendente que vivia a rodeá-la.
Apesar e por causa do temor e respeito que inspirava à maioria das pessoas, o Capitão possuía alguns desafetos. O maior deles era outro fazendeiro, que, como ele, também se chamava Antônio, atendendo pelo nome/alcunha de Antônio do Garimpo.
Naquele sábado, 21 de fevereiro de 1931, o Capitão encontrava-se particularmente feliz, pois estava completando 36 anos. Para ele, o dia do seu nascimento era especial, merecendo ser comemorado com toda pompa. Pela manhã, mandou um boi para o matadouro. Fez vir, das suas lojas, a cachaça e o vinho. Distribuiu ordens aos empregados. Cotejou, com a mulher, se faltava alguma coisa para os preparativos da cozinha, dando ênfase que se caprichasse nos quitutes e bolos. Checou, com o capataz da fazenda, a vinda dos cantores, exigindo a presença do Manoel Sanfoneiro. Com o tempo, não se preocupou, pois o dia amanheceu ensolarado.
Na cidade, não se falava em outra coisa que não fosse a festa dos Souza França. Muitos foram os convidados, inclusive os me- nos afortunados, tal qual o barbeiro Heráclito, o sapateiro Manuel, e D. Marianinha, da barraca de queijos. O Capitão os conhecia desde menino e, por eles, demonstrava apreço. Era sabido por todos que, aquele que mesmo sem convite fosse à festa e se comportasse dignamente, poderia ficar sem mais problemas.
Flora, que tinha um carinho especial por Geraldina, chegou cedo à fazenda, e logo tomou a frente dos preparativos. Distribuiu as tarefas para as ajudantes. Conferiu os ingredientes para a preparação das comidas. Mandou rachar mais lenha para o fogão e bombear água para a caixa d’água que alimentava a cozinha. Para ela, era importante que tudo estivesse bem preparado, pois se estimava que comparecessem à festa cerca de quinhentas pessoas. Ela não queria que nada decepcionasse ao Capitão.
O galpão onde se daria o arrasta pé já estava todo enfeitado. O palco dos cantadores já estava montado, as bandeirolas estavam suspensas ao alto e os assentos foram estrategicamente colocados para que as moças se sentassem e pudessem ser convidadas para as danças. Do lado direito da entrada, foram montados três balcões para a distribuição das bebidas. Do lado esquerdo, foram colocados tabuleiros de um metro e vinte de altura, com uma extensão de 30 metros, onde seria distribuída a comida, com a recomendação de que sempre fosse reposta para que não faltasse nada.
Às treze horas, Souza França foi avisado que, em uma outra de suas fazendas, localizada no mesmo município, um dos diques que estava sendo construindo, rompeu-se. Apesar da festa de seu aniversário, ele fez questão de avaliar, presentemente, as consequências do ocorrido. Para ganhar tempo, resolveu ir sozinho. Encilhou um cavalo e se despediu com a promessa de voltar até às dezesseis horas.
Três horas da tarde, os primeiros convidados começaram a se apresentar: o Coronel Passarinho, o intendente Gumercindo, com esposa e filhos, o escritor Orlando Bessa, de passagem pela cidade. Estava presente, ainda, Amaral Sendas, cafeicultor vindo de São Paulo para tratar de negócios com o Capitão.
Geraldina demorou a ter filhos, mas, quando o fez, trouxe dupla satisfação ao marido, que já andava meio descrente. Deu lhe gêmeos: uma linda menina e um forte e robusto garoto, os quais já estavam com três anos. Como incumbira Flora dos preparativos da casa, tomou para si os cuidados para com as crianças. Organizou as roupas do esposo, que sempre tinham que estar bem passadas e engomadas, e se vestiu para a festa.
Na grande sala da casa principal, reuniram-se os primeiros convidados, enquanto aguardavam o início da festa:
— É… Coronel, festas como a do Capitão não se vê nem em São Paulo!
— Meu caro intendente! Concordo plenamente. Mas, quem melhor do que nosso homem do café para confirmar se temos razão?
— Estimado doutor Gumercindo! – responde Amaral Sendas. – As festas dos Souza França, desde o tempo do Coronel Emiliano, avô de Antônio, são famosas e conhecidas em toda grande São Paulo. Confesso que, volta e meia, amigos paulista- nos vêm a mim para recordar dos bons tempos e…
— Espere! – interrompe o Coronel Passarinho. – Nosso grande escritor já andou por São Paulo. Será que alguma vez ouviu algum comentário sobre as festas do Capitão? Nos diga, Bessa!
— Amigos! Propriamente sobre as festas, não. Mas estou no processo final de pesquisa da saga dos Souza França. Espero, em breve, ter novidades para vocês.
— Ora! Ora! Quem diria o nosso letrado se interessando pelas coisas do Goiás.
Ao ouvirem aquelas palavras, os presentes se levantaram contentes, pois elas vinham do Capitão que, após quase duas horas de atraso, retornava. Logo, um círculo se formou em sua volta e os cumprimentos e felicitações pelo aniversário dele fizeram-se ouvir.
– Obrigado a todos! Eu vou tomar um banho e trocar de roupa. Fiquem à vontade. O Manuel Sanfoneiro já chegou e, daqui a pouco, nós vamos embainhar o sabre e sujar as botas.
Posto isto, subiu para se trocar e cumprimentar a esposa. Extrema saudade sentia Souza França pelo pai, e a única nota ruim, naquele dia, era não tê-lo mais junto a si. Alencar Machado Souza França faleceu pouco antes do nascimento dos gêmeos, sem ter tempo de conhecer os netos, desejo que mani- festou diversas vezes ao se ver cada vez mais próximo da morte. Todavia, a doença há muito tinha lhe tomado conta. Ele conseguiu sobreviver por mais algum tempo, graças aos desvelos do filho e aos cuidados do doutor Paulo Ely, médico experiente, que acabou por se tornar amigo particular da família.
Depois que o marido realizou sua higiene pessoal, Geraldina veio ter com ele.
— E, então, Antônio… o que aconteceu na Fazendinha?
— Os peões se descuidaram com a madeira e começou um vazamento que acabou por arruinar o dique, mas já está tudo sob controle. Na estrada, passei por um peão que não conheço. Ele me perguntou se aquele era o caminho pra cidade. Como estava com pressa, apontei-lhe a direção e segui adiante. Quando ele me cumprimentou tocando o chapéu, notei que ele não tinha dois dedos da mão direita. O que achei esquisito é que ele, mesmo assim, carregava um revólver na cintura e um rifle na sela do cavalo.
— Bem! O importante, hoje, é cuidarmos da sua festa — disse Geraldina, enquanto abraçava o marido. — Suas roupas já estão separadas e passadas.
— Obrigado, meu bem! Assim que acabar de me vestir, desço para o galpão.
Às dezenove horas, o local destinado para a festa está praticamente lotado. O sanfoneiro, em seu posto ao lado do trio de forrozeiros, ensaia os primeiros acordes. Dois cantores de moda de viola e uma bandinha de descendentes de imigrantes alemães também estão a postos.
O boi já estava sendo destrinçado. Muitos já se serviam da bebida e das comidas. A cada meia-hora, fazia-se ouvir uma salva de fogos de artifício. Grupos se formavam de um canto a outro, notadamente separados por seus iguais.
O gosto musical do dono da casa era bastante diversificado. Por isso, as músicas e as danças variavam: escutava-se, ora a modinha caipira, ora o forró já conhecido por ali. Depois, entrava a bandinha, com suas músicas e danças de origem alemã. Aquela miscelânea acabava por agradar a todos. Só não dançava quem tinha a cintura dura, assim como costumava dizer, brincando, o Coronel Passarinho.
São oito horas e trinta minutos quando Souza França adentra o galpão, tendo, ao seu lado, Geraldina. Imediatamente, cessa a música. O ribombar de fogos e fogos se faz ouvir, seguidos por calorosos aplausos e gritos de viva ao Capitão.
Passada a explosão de alegria, um dos cantores toma o microfone e anuncia:
— Senhoras e senhores, um minuto de vossa atenção. O coronel Passarinho deseja lhes falar:
— Cavalheiros, senhoras, estimados amigos de Campo Formoso, Pires do Rio e cercanias. Hoje, é um grande dia não só para a família Souza França, que nos dá a oportunidade de comemorarmos juntos esta data, mas para todos que conhecem nosso aniversariante. O pai de Antônio, cuja honra tive de ser amigo, se vivo estivesse, estaria no meu lugar, a lhes dirigir estas palavras que tomo como incumbência pelos laços fraternos que nos une. Do molde de onde foi talhado homens como o nosso amigo, poucos saíram. Poucos podem, como ele, ser considerados corretos e justos. Poucos são tão respeitados e admirados. Por isso, há essa verdadeira multidão que aqui comparece para homenageá-lo. Chamemos, ao palco, nosso querido Capitão, para que receba nossas saudações.
Novamente, aplausos, gritos de viva e parabéns, fizeram-se ouvir, seguidos por mais pipocar de fogos.
Subindo ao palco, Souza França começa a improvisar um agradecimento:
— Obrigado, amigos! Não é segredo pra ninguém que considero especial a data de hoje. Não somente por ser meu aniversário, mas principalmente, pelo comparecimento de todos que aqui estão. Agradeço as palavras carinhosas e leais do nosso amigo de tantos anos, Coronel Passarinho. As referências dele a minha pessoa demonstram a consideração que sempre teve por mim e por minha família. Faço, ainda, um agradecimento especial a minha esp…
Naquele momento, outro ribombar se faz escutar, e muitos acreditam que é apenas mais um estourar de fogo de artifício.
Entretanto, no palco, o Capitão Antônio de Mello Souza
França leva a mão ao peito e despenca ao chão.
Correria e gritos de desespero se fazem ouvir:
— O Capitão foi ferido!
— Atiraram em Souza França!
— O que houve? O que houve?
— Mataram o Capitão!
— Cadê o médico?
— Não, não. Acho que ele ainda respira.
— Quem atirou? Quem atirou?
Ao longe, alguns escutam um galope desenfreado.
***
— Calma, Maria Odete, calma, minha filha! A criança já está vindo!- consola Flora.
— Peguei! Peguei! — disse a parteira. — É um menino.
— Segure ele, Dete! Segure! Que vou ajudar o cortar o cordão.
Maria Odete pega o filho em suas mãos sentindo sensações estranhas, que vão da repulsa a alegria.
— E, então, minha filha, o que está sentindo? Que nome você vai dar pra essa criança?
— Estou bem… tia Flora! Como o avô, ele vai se chamar Iracildo...
1* Cidade-satélite do Distrito Federal que, mais tarde, será conhecida apenas como Taguatinga.
2* Primeiro jornal editado no Distrito Federal.
3* Cidade-satélite do Distrito Federal, atual Núcleo Bandeirante.
Para adquirir o livro “Terras dos Homens Perdidos” acesse os sites: www.clubedeautores.com.br — www.editoraviseu.com.br e digite o nome do livro.
Livros de Gil DePaula -- www.clubedeautores.com.br -- www.editoraviseu.com.br -- gildepaulla@gmail.com
Livros de Gil DePaula -- www.clubedeautores.com.br -- www.editoraviseu.com.br -- gildepaulla@gmail.com
 Blog do Gil Tecnologia, humor, notícias, curiosidades, dicas, diversão, arte, variedades
Blog do Gil Tecnologia, humor, notícias, curiosidades, dicas, diversão, arte, variedades